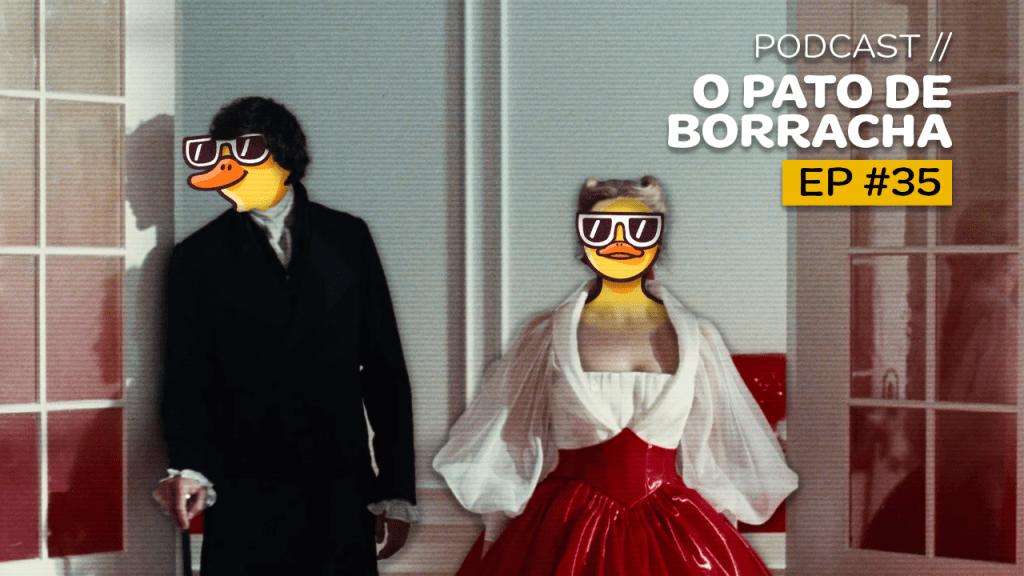Queer (2024) | Dir.: Luca Guadagnino |
Eu adoro um bom ator disposto a se reinventar. Sempre foi um problema na vida dos atores de franquia conseguir emplacar uma carreira depois de uma sequência de filmes de sucesso com a mesma marca. É uma patologia presente desde o cinema de monstros, westerns, detetives/ espiões, e, mais recentemente, super-heróis. Às vezes o ator interpreta magnificamente aquele personagem, mas tem recursos limitados para mudar de gênero ou de papel. Também pode ocorrer que o ator até está disposto a fazer “filmes diferentes”, que quase sempre são diferentes no conceito, mas não no tipo de personagem que escolhe interpretar.
Sempre soube que não seria o caso com Daniel Craig, ator com recursos de sobra para qualquer gênero que já o vi fazer, seja no teatro ou no cinema. Aqui em Queer, nova empreitada do diretor Luca Guadagnino, ele brilha durante todo tempo de tela.
O filme é baseado no livro de William S. Burroughs de mesmo nome, uma das obras menos conhecidas do seu catálogo e considerada, até certo ponto, autobiográfico do autor. Vemos um escritor americano viciado em drogas, isolado no México e tentando se relacionar com meninos bem mais novos que, após conhecer um ex-militar e atual garoto de programa para mulheres solitárias, ganha toda atenção do autor com aparente síndrome de Don Juan.
Esse é o melhor aspecto do filme. Ver um homem mais velho, conhecido pela cidade, com amigos de longa data e mais experiente, que de repente começa a se atirar aos pés de um menino bem mais novo. Você vê que o personagem do Daniel Craig está tentando se conter, sabe da infantilidade de todo processo, mas cede a qualquer onda de ciúmes que vem das ações do Eugene, personagem interpretado por Drew Starkey, que é bonito e competente para o papel, embora não chegue ao nível do seu parceiro de cena. Seu amigo e colega de profissão, interpretado por um Jason Schwartzman repleto de próteses para engordar seu rosto e corpo, faz pouco para tentar acordar o Daniel Craig desse torpor, já que ele mesmo reclama dos diversos homens que leva para casa e roubam seus itens pessoais.
Dito tudo isso, não me investi na história do filme. As duas horas e dezesseis minutos passam de forma muito arrastada. Para mim, um corte de três horas é impensável, que o diretor tentou lançar como primeira versão. É quase inimaginável que esse filme tenha a mesma equipe técnica por trás do outro filme do Guadagnino desse ano, Challengers (ou “Rivais”, no Brasil). O roteiro do Justin Kuritzkes para aquele filme é acelerado, com ritmo lá em cima o tempo todo, fazendo com que você esqueça que a duração é quase a mesma de Queer. A direção também tem a mão forte que te guia por aquelas partidas de tênis e por todas as sessões de drama entre aqueles três amigos. A música do Trent Reznor e Atticus Ross talvez seja uma das melhores da carreira deles como compositores de cinema e a fotografia do Sayombhu Mukdeeprom te dá cores vibrantes em um visual único, que aqui apresentam uma música pouco inspirada e cenas que deixam claro que o filme foi todo rodado em estúdio.
Podemos dizer que Queer é a antítese de Challengers, para o bem e para o mal. Enquanto aquele filme tem uma narrativa não linear, que nos deixa em suspense para descobrir o que aconteceu e o que acontecerá, esse filme é divido em capítulos, outra pisada de freio brusca do roteiro. O mais interessante é o primeiro, que mostra esse início de relacionamento entre os dois personagens se desenvolvendo, e a tensão para sabermos se algo vai rolar entre os dois ou não.
O segundo capítulo se torna uma viagem entre dois amigos, um deles sofrendo de abstinência enquanto passeiam por uma das representações mais sem graça da América do Sul, já que o filme é quase inteiramente filmado em estúdio. Não posso deixar de comentar como esse aspecto me irritou. As mesmas ruas e estabelecimentos se repetem, entregando as casas que não passam de um fino painel de madeira. As janelas tem reposições de cenários que não conversam com a luz interna dos ambientes. E as supostas “externas” têm cenários claramente digitais e miniaturas que lembram os trabalhos do primeiro semestre de arquitetura de uma faculdade. O mesmo problema se repete na terceira e última parte, em que os personagens vão em uma viagem louca pela Amazônia procurando por chá de ayahuasca para desbloquearem uma “telepatia”.
Se os elementos da história parecem desconexos, não é só impressão. Parece que, para todo Call Me by Your Name, o Luca Guadagnino tem que lançar um Bones and All; para cada Suspiria, um We Are Who We Are. E assim, um dos diretores mais interessantes da nossa geração, se perde em um filme difícil de recomendar, sem falar das breves inserções surrealistas, que parecem desconexas da maneira que ele conta o resto da história. Fiquei pensando desde que assisti se o diretor tivesse dado o ponto final após o primeiro capítulo, que termina com um longo plano que não permite respiros do protagonista fazendo algo chocante em tela enquanto enfrenta uma crise de melancolia, se não teríamos um filme melhor.
Vale assistir? Vale, pelo Daniel Craig. Ele é o que conecta toda essa narrativa confusa em uma performance que não dá para tirar os olhos, fazendo coisas que vão chocar aqueles que só acompanharam seus quinze anos de James Bond. Que venham mais William Lees e Benoit Blancs na carreira Daniel Craig. E que venham mais filmes memoráveis para o Luca Guadagnino, por quem eu torço desde 2017. Esse, infelizmente, não é um deles.